Um lugar para voltar (ou bizitza txuri-urdin)
SEJA POR CONDIÇÕES FINANCEIRAS, pela busca da independência dos pais, ou até mesmo para encarar novas oportunidades em outra localidade, poucos são os que nunca se mudaram. Com clubes de futebol, a situação é diferente. Estádios dificilmente são trocados; são persistentes e resistem aos sinais do tempo. A Real Sociedad, no entanto, nunca temeu o amanhã*.
Meu nome é Iker Ayala e isso quase provocou um cisma na minha casa. Meu pai queria a todo custo que eu me chamasse Ignacio. Ele idolatrava o Cholín e o fato de eu ter nascido no dia em que ele faleceu, 30 de novembro de 1967, fez com que vivesse dizendo que eu vinha para continuar a vida d’Ele.
Nunca entendi os motivos de o meu pai ter tamanha simpatia por um jogador tão antigo. Vindo ao mundo em 1935, ele não tinha como ter grandes lembranças. O que posso garantir é que ele regurgitava, mais ou menos uma vez por dia, que ninguém havia marcado mais gols vestindo nossas cores do que ele, Ignacio María Alcorta Hermoso de Ordorica, o Cholín1. Minha mãe venceu, porém.
A explicação que ouvi durante a infância foi a de que Ignacio não era nome apropriado para um basco. Iker era e, naquele 1967, isso importava mais do que em outros momentos. Desconfio que se continuasse descansando esta cebola, lágrimas poderiam surgir, então sempre engoli a história como contada, mesmo sem descer suavemente.
Amatxo2 fez o necessário para garantir o nome por ela escolhido, o que me explicaram mais tarde. Ela sabia que o responsável pelo cartório de registro civil, um tal sr. Olartekoetxea, andava pulando a cerca. Sabia porque as escapadas furtivas aconteciam com ninguém menos do que sua não tão apreciada irmã, com quem pouco falava, embora morassem a 300 metros uma da outra. Não foi necessário muito poder de persuasão. Mas por que era preciso convencê-lo? Porque as ordens de cima eram expressas. Estávamos na Espanha, na Espanha falávamos apenas castellano e nossas crianças precisam ter nomes espanhóis.
Ainda na infância, soube que meu avô conheceu o Cholín, que era seu contemporâneo. Meu pai me contava as histórias do avô, que já conheci mais velho e com a fala afetada pelas sequelas de um AVC, como se fossem épicos, repletos de ação, idas e vindas. O ponto comum a quase todas elas era a presença da Real, aquela constante que ia sendo transmitida entre gerações. O avô chegou a ver o time jogar em Ondarreta3, mas dizia não se lembrar. Cresceu mesmo em Atotxa.
O estádio foi inaugurado em 1913 e a circunstância não poderia ter sido outra: clássico contra o Athletic. Donostia de um lado, Bilbo do outro4. O placar terminou 3 a 3 e o astro do jogo foi ninguém menos do que ele, Rafael Moreno Aranzadi, o Pitxitxi5. O avô tinha 13 anos e, dizem, estava lá.
Já a estreia do pai aconteceu muito tempo depois, passada a Segunda Guerra e já sob Franco. Ele sempre me disse que não se lembrava — sim, aparentemente fui o primeiro homem da família com boa memória — qual tinha sido o adversário, mas o time vivia as agruras da segunda divisão, o que aconteceu na maior parte daqueles sofridos anos 1940.
A primeira alegria de verdade que ele teve com a Real aconteceu em 1948-49. Nosso time voltou à elite, impulsionado pelos gols de José Caeiro — que segundo dizem não era grandes coisas com a bolas nos pés, mas de bola na rede entendia. Foram 23 tentos naquele ano. Mais tarde, descobri que o nome completo dele era José Ignacio Caeiro Igos6. Curioso.
Dentro de casa, falávamos euskara, mas meus pais, e mais enfaticamente meus avós, diziam para não tagarelar na rua, só entre nós. Da porta de casa para fora, siempre castellano, chico, siempre. Não era um grande problema, porque na escola nós já não tínhamos alternativa mesmo e eu estava acostumado. Tive colegas que, inclusive, ameaçavam nos delatar para os coordenadores. Para todos os efeitos, Donostia nem existia, vivíamos em San Sebastián. Ponto.
Existia uma exceção permitida. Só uma, não mais do que uma, até porque eu era jovem demais para frequentar outros espaços de emancipatória conspiração.
Minha primeira visita à Atotxa aconteceu na última rodada da temporada 1974-75, quando finalmente minha mãe, contrariada, julgou que, aos sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias, eu já era adulto o suficiente para encarar a multidão das arquibancadas. Dois jogadores me chamaram imediatamente a atenção. O primeiro foi o goleiro Pedro Artola7, afinal vestia uma roupa diferente. O outro foi Inaxio Kortabarria8, pela imponência. Ele era jovem, mas tinha postura de capitão.
Vencemos o Espanyol, de Barcelona, por 2 a 0 e me senti no paraíso. Então aquilo era futebol e aqueles eram os suaves sabores da vitória e de falar euskara fora de casa. Sempre que revisito minhas borradas lembranças, sinto o doce sabor da liberdade. Naquele dia, ninguém me censurou e não me lembro de ter medo. Meu pai conta, e disso realmente não me recordo, que meus olhos estavam vidrados e que ele nunca tinha me visto tão concentrado até então. A chama dele, há tempos fraquinha, reacendeu.
Em 1975-76, fomos a todos os jogos em que a Real foi mandante. Ainda no início da campanha, uma coisa importante aconteceu: Franco morreu e não acredito que tenha visto outra vez gente que considerava boa comemorar a morte de alguém.
Três dias depois, recebemos o Salamanca e empatamos por 1 a 1. Havia uma gente cabisbaixa, mas a massa de exultantes não só era imensa como parecia incompatível com aquele resultado decepcionante, ainda mais considerando que aquele ano ia mal. Toda a alegria de jogar a Copa da Uefa, por exemplo, escorrera pelo ralo quando o Liverpool nos enfiou 6 a 0 (no dia seguinte, corri para pegar o jornal primeiro e ficar com o caderno de esportes. Não me lembro de sentir maior dor com o futebol). Aquele ano não foi grande coisa mesmo, mas me lembro como se tivesse acontecido ontem.
— Vou com vocês — anunciou, decidida, minha mãe. — No intervalo das aulas, o sr. Oyarzabal comentou comigo que a cidade vai viver um dos dias mais marcantes da nossa história. Farta das aulas de História que dava há quase 15 anos, com seus vieses definidos pelo arbítrio, emburrecido como ela não cansava de repetir, dos inspetores que não faziam outra coisa senão encher a paciência dos professores, ela queria sentir o gosto da ação. Foi a primeira vez que vi, fora do nosso contexto familiar, os olhos da minha mãe a cintilar. Meu pai sabia que não adiantava contra-argumentar, por menos que gostasse da ideia de ter a esposa no espaço que lhe permitia uma dose de trogloditismo, o qual me passava voluntária ou involuntariamente.
Recordo que o sr. Oyarzabal era, como nós, um dedicado torcedor da Real — além de professor de Física. Faltavam alguns anos para eu ter aulas com ele, mas o conhecia pela amizade com meus pais, na escola e nas arquibancadas. Eu não entendia exatamente o porquê de ele tentar mobilizar os colegas de trabalho, ao menos os que não pediam a benção aos inspetores e não andavam com as caras assustadas o tempo todo (o que era comum).
Ninguém sabia exatamente o que aconteceria naquele 5 de dezembro de 1976. O Athletic vinha nos visitar para mais um dérbi e, dias após meu aniversário de 9 anos, eu só conseguia pensar no difícil que seria vazar o gol defendido pelo Iribar9. Devo confessar que não sentia tanta confiança no Arconada10— ainda — e tinha certa inveja dos nossos rivais por ter aquele pedaço de goleiro debaixo das traves. Digressão à parte, na semana do jogo, os adultos falavam baixinho e eu não entendia o que estava acontecendo, ainda que estivesse claro: alguma coisa estava em marcha.
Foi quando meu pai decidiu que eu não iria ao jogo que a situação ficou feia. Eu não era uma criança mal-criada, mas aquele veto soou a traição. Usei todo o meu exíguo cartel de xingamentos para tentar machucar meu pai, e também minha mãe, a quem vi como a usurpadora dos meus direitos ludopédicos. Decidi que não ia mais comer. A greve deve ter durado umas seis horas, mas resultou. Ou eu cresci pensando que sim. A verdade é que eles reconsideraram a decisão quando perceberam que boa parte das forças de segurança não estava disposta a trabalhar pesado no jogo, pelo contrário.
Me escapavam as razões pelas quais se falou tanto e tão pouco sobre o jogo durante a semana. Pelos cantos, me perguntava o que significava, mas não ousava comentar. A primeira e mais importante lição que meus pais me ofereceram foi a de não confiar nos outros. Só comecei a entender no caminho para Atotxa. As mesmas camisas azuis e brancas de sempre caminhavam, lado a lado, mas o clima era diferente, mais solene, respeitoso e, ao mesmo tempo, repleto de olhares furtivos e dúvidas que a brisa carregava, tentando distinguir quem estava de que lado; uma paz beligerante.
No fundo, sei que havia Franquistas, porque até hoje existem. Mas não os vi. Mesmo que eu fosse uma criança, não era tão difícil notá-los, com sua cara recalcada, cujas faces demonstravam valentia falsa ou covardia verdadeira.
Acedemos ao setor de sempre e aguardamos. Em dado momento, que para mim pareceu uma eternidade, irromperam os times, puxados por seus capitães. Meu adorado Kortabarria entrou ao que me pareceu de mãos dadas com Iribar. Levou pouco mais de uma dúzia de segundos para eu ver que, na verdade, carregavam um pedaço de pano retangular que eu havia visto poucas vezes e não fazia ideia do que significava. O ato instintivo de perguntar à minha mãe do que se tratava foi rapidamente censurado pelas lágrimas que lhe escorriam o rosto.
Ouvi apenas três palavras: — É a Ikurriña.
Vencemos por 5 a 0. Foi um dia glorioso, mas só me inteirei do seu gigantismo na adolescência, quando já sabia e podia falar que a Ikurriña era a nossa bandeira, o símbolo do nosso povo, do nosso lugar, da nossa casa. Não apenas da Real, mas de todos nós o povo basco. Tenho marcado na alma a vivência do bicampeonato espanhol, no início dos anos 1980, mas entendi que minha grande história como torcedor, membro da comunidade txuri-urdin, aconteceu naquele fim de 76. Um mês depois, o regime começou a cair oficialmente11.
Um pouco mais tarde, perto dos 13 anos, descobri que foi o Josean De la Hoz12, nosso lateral esquerdo, que mobilizou as pessoas e pediu à irmã, Ane Miren, que cerzisse a bandeira, impossível de ser adquirida no comércio. Foi dele a ideia de mostrar que a transição de regime, que já estava em lento curso desde a morte de Franco, era um movimento inevitável e que a nossa história estava em vias de ser resgatada. Mesmo assim, a ideia teve de ser transportada clandestinamente, dentro de seu Fiat 128.
1996
— Iker! Confira se o Inaxio pegou sua jaqueta — me gritou Ainhoa. Fazia três anos que vivíamos do lado de lá dos Pirinéus, em Bordeaux. Eu tentava me consolidar como chef e ela como artista plástica. Voltamos a Donostia pela primeira vez para comemorar meu aniversário de 29 anos. Nos hospedamos na casa dos meus pais, que já se sabiam avós, mas não conheciam o pequeno.
— Inaxio, deixe de bobagens e cumprimente seus avós — interpelei-o para que saísse de trás das pernas da mãe dele. —Ande logo…
— Está tudo bem, Iker, o presente pode esperar — falou minha mãe, como quem esfrega uma lâmpada mágica. Com sub-reptício interesse, Inaxio se apresentou e puxou o embrulho das mãos da avó, que segurou com firmeza. — Não, não, não. Não sem um abraço primeiro.
— Eskerrik asko, amona13— falou rápida e protocolarmente Inaxio, hipnotizado pela beleza de sua primeira camisa da Real Sociedad, e enfiando a cabeça no buraco da manga, na tentativa de vesti-la. Em minha defesa, só posso dizer que não encontrávamos camisas da Real em Bordeaux. O delito, ainda que subentendido, está evidente.
— Tem outra coisa do saco — era a Ikurriña. Sem tomar conhecimento do que se tratava, Inaxio a colocou nas costas como se fosse a capa de um super-herói.
Uma das razões que me levou a partir para Bordeaux, ainda que só tenha comentado muito tempo depois com Ainhoa, foi a substituição de Atotxa. Tudo bem que Anoeta caberia mais pessoas, geraria mais renda e seria mais moderna. Só que o futebol e a Real Sociedad, para mim, eram o que eram por conta das memórias. O fechamento do que eu entendia como minha segunda casa foi como um aviso de “chegou a hora de você viver um novo capítulo na vida”. O futebol acabou ficando em segundo plano, o que também foi motivado pela decisão do time de admitir a contratação de atletas de fora do País Basco14.
Eu apenas não contava que os instintos de Inaxio o levariam a pedir para assistirmos a um jogo no campo.
A estreia de Inaxio, com mãe, pai, avô e avó, aconteceu no dia 1º de dezembro de 1996, contra o mesmo Espanyol que, 22 anos atrás, me introduziu ao sentimento txuri-urdin. Com gol do sueco Håkan Mild, vencemos por 1×0. Na saída, meu filho me perguntou o que era um “sueco” e enfim me dei conta de como o mundo mudava rapidamente, alheio à minha irresignação.
Anoeta não era Atotxa, mas entendi que se eu pude me mudar de Donostia, me assumir estrangeiro e fazer casa em Bordeaux, aquele estádio poderia ser minha nova segunda casa e representar também um lar para Inaxio.
A vida, que não para, recomeçava aos 29 anos e a Real Sociedad seria sempre a mesma, onde quer que viessse a jogar. O que Atotxa foi para mim, Anoeta seria para Inaxio.
* Trata-se de uma narrativa histórico-ficcional.
[1] Ignacio María Alcorta Hermoso de Ordorica, Cholín, nasceu em Tolosa, em 1906. Foi jogador da Real Sociedad entre 1927 e 40. Com 127 gols marcados, foi durante muitos anos o maior goleador da história da equipe, até ser superado por Roberto López Ufarte (129) e Jesús María Satrústegui (162).
[2] “Mãe” em euskara.
[3] Primeiro estádio da história da Real Sociedad, utilizado entre 1906 e 1913.
[4] Respectivamente, nomes bascos para San Sebastián e Bilbao.
[5] Rafael Moreno Aranzadi, o Pitxitxi (Pichichi em castelhano), nasceu em 1892 e foi um dos primeiros grandes artilheiros da história do futebol espanhol. Conseguiu a medalha de prata nas Olimpíadas de 1920 e, mais tarde, passou a dar nome ao prêmio anual concedido ao maior artilheiro da primeira divisão espanhola. Para mais informações, acesse: https://ofutebologo.com.br/pichichi-athletic-bilbao/.
[6] José Ignacio Caeiro Igos nasceu em 1925 e foi jogador da Real Sociedad entre 1948 e 51.
[7] Pedro María Artola Urrutia nasceu em 1948 e foi goleiro da Real Sociedad entre 1970 e 75.
[8] Inaxio Kortabarria Abarrategi nasceu em 1950 e foi zagueiro da Real Sociedad entre 1971 e 85, tendo sido o primeiro capitão entre 1980 e 83.
[9] José Ángel Iribar foi goleiro do Athletic Bilbao entre 1962 e 80. É o jogador com mais aparições pela equipe, com 614 partidas. Defendeu a Espanha no Mundial de 1966.
[10] Luis Miguel Arconada Etxarri foi goleiro da Real Sociedad. Formado no clube, despontou em 1974 e permaneceu até 89. É o quarto jogador com mais partidas pela equipe, 551. Disputou os Mundiais de 1978 e 82.
[11] Em 4 de janeiro de 1977 foi promulgada a Lei para a Reforma Política, pedra fundamental para a publicação da Constituição Espanhola de 1978, que transformou o país em um Estado Social e Democrático de Direito. Foi, então, garantida a autonomia das Comunidades Autônomas, entre elas o País Basco.
[12] José Antonio de la Hoz Uranga nasceu na cidade de Getaria, em 1949. Defendeu a Real Sociedad entre 1972 e 78.
[13] “Obrigado, vovó”, em euskara.
[14] Em 1989, depois de perder vários destaques para outras equipes e se ver com dificuldades para formar novos talentos, a Real Sociedad contratou o irlandês John Aldridge, ex-Liverpool. Para mais informações, acesse: https://ofutebologo.com.br/john-aldridge-real-sociedad/.






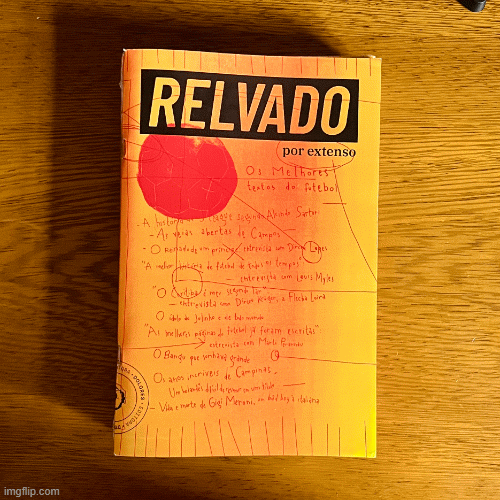
Mesmo fictícia história incrível essa.eu sou torcedor do Bilbao e sinceramente eu falo que já passou da hora de admitir jogadores de fora afinal o mundo mudou bastante e o athletic também deve mudar para crescer.
Obrigado pelo comentário! Sobre o Athletic, penso que há que se respeitar a tradição, mas que ela, por si mesma, não justifica a decisão de não se abrir a jogadores de outras partes