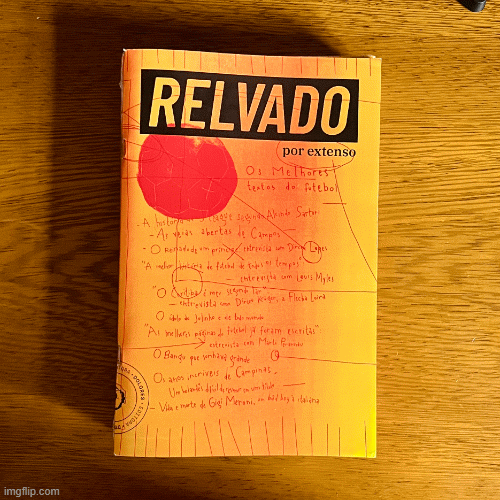Em 1998, Irã e EUA colocaram Lyon no centro do mundo
ERA 1953. No dia 20 de agosto, jornais alertavam o mundo: o sangue rolava na Pérsia. Milhares de quilômetros distante do Oriente Médio, a Folha da Manhã contava aos brasileiros: “O governo do ‘premier’ Mossadegh acaba de cair”. Concluía-se um golpe de estado orquestrado pela CIA, com apoio do Reino Unido. Ao mesmo tempo, iniciava-se um irreversível desgaste na relação entre Irã e Estados Unidos. 45 anos mais tarde, quando a bola rolou em Lyon para um aguardado confronto entre os países, todos sabiam que havia muito mais do que futebol em causa.

Foto: Jerome Prevost/TempSport/Corbis/VCG via Getty Images/ Arte: O Futebólogo
A mão forte dos EUA
Conta o historiador Eric Hobsbawm, n’A Era dos Extremos, que “em 1950 […] a região do islã ocidental, da Pérsia (Irã) ao Marrocos, era transformada por uma série de movimentos populares, golpes revolucionários e insurreições, começando com a nacionalização das empresas de petróleo ocidentais no Irã”. Por razões óbvias, os acontecimentos envolvendo o combustível fóssil afetavam os interesses do ocidente, que não permaneceria inerte.
60 anos mais tarde, por meio da liberação de documentos do Arquivo de Segurança Nacional da Universidade de George Washington, a CIA admitiria ter arquitetado a queda do premiê secular Mohammed Mossadegh. “O golpe militar que derrubou Mossadegh […] foi realizado sob direção da CIA como um ato de política externa americana concebido e aprovado pelas mais altas instâncias do governo”, lia-se no texto reproduzido pela Folha.
Além disso, como revelaria Noam Chomsky, em Quem Manda no Mundo?, a questão ultrapassava a celeuma petrolífera, ou o medo da ascensão de um governo alinhado à União Soviética, antes passava pela “exigência de ‘controle total’ […] que se viu ameaçada pelo nacionalismo independente”. Temia-se a expansão da influência iraniana sob seus vizinhos, em especial o Egito.
Mais de duas décadas depois, em 16 de janeiro de 1979, confirmava-se o sucesso da Revolução Iraniana. O Jornal do Brasil noticiou os festejos de milhares de manifestantes com a partida do Xá Reza Pahlevi, que buscou refúgio em solo egípcio e tinha ótimo relacionamento com os EUA. Segundo o periódico, o líder aiatolá Ruhollah Khomeini, que assumiria o poder, proclavama a unidade nacional “para reconstruir o país destruído pelo Xá e pelos estrangeiros”. Por estrangeiros, mormente, referia-se aos Estados Unidos.
A paz seguiria sendo uma obra de ficção. Diferentemente do que o início dos anos 1950 projetava, estabeleceu-se uma república teocrática e fundamentalista, diametralmente oposta à ideia de governo secular do passado. “A esquerda tradicional esteve de fato presente e ativa no Irã, e sua parte na derrubada do Xá, por exemplo, com as greves operárias, longe esteve de ser insignificante. Contudo, foi quase imediatamente eliminada pelo novo regime”, acrescentou Hobsbawm.
Khomeini não era Mossadegh: alimentava um evidente antiamericanismo, o qual, segundo o professor Siavush Randjbar-Daemi, da Universidade St. Andrews e entrevistado pela BBC, perfazia a base do êxito da República Islâmica. Mostra disso viria já em 79, com o cerco à embaixada americana em Teerã, mantendo diversos reféns, por mais de 400 dias. Nesse período, as relações diplomáticas entre os países deixariam de existir.
Longe da tranquilidade, o Irã seria invadido em 1980 pelo Iraque, liderado por Saddam Hussein, sob quem pendiam as bênçãos estadunidenses. O conflito duraria oito longos anos, com diversos eventos de intraduzível violência, de parte a parte, incluindo a destruição de uma refinaria de petróleo iraniana. “O presidente [dos EUA, Ronald] Reagan chegou ao ponto de negar o mais terrível crime cometido por Saddam, o ataque com armas químicas contra a população curda do Iraque”, comentou Chomsky.
Para além de todas essas implicações, outro tema inescapável na tórrida relação Irã-EUA seria o programa nuclear iraniano. Antes da revolução, com apoio norte-americano, o país esteve tão perto quanto possível de desenvolver armamento nuclear. Passadas as intercorrências dos anos 1980, em 1995, um acordo com a Rússia para a conclusão das obras de um reator nuclear, há anos paralisadas, reacendeu a discussão, agora com os EUA do outro lado da mesa.
Tudo isso estava em pauta quando, em 1997, EUA e Irã foram sorteados para o mesmo grupo na Copa do Mundo do ano seguinte.
Nunca um sorteio repercutiu tanto
Em 4 de dezembro de 1997, a FIFA sorteou os grupos do Mundial. Último colocado no ranking utilizado para dividir os países, o Irã estava no Pote 4 e era um adversário desejado pela maior parte do mundo, que imaginava não ter o que temer contra os persas — ainda que o elenco contasse com peças como Mehdi Mahdavikia, Karim Bagheri, Ali Daei e Khodadad Azizi, todos com passagem importante pelo futebol alemão. Fazia 20 anos desde a primeira e, até então, única aparição iraniana em Copas. Em 14º lugar, os EUA ficaram no Pote 2.
O Grupo F acolheu os adversários há tempos beligerantes, além de Alemanha e Iugoslávia. A palavra sorteio, cuja etimologia traz a referência do latim sors, “sorte”, parecia adequada para germânicos e eslavos. Nem tanto para os outros envolvidos. Ainda assim, com uma atitude de quem se sente, efetivamente, superior, a imprensa estadunidense se mostrava despreocupada. “Na verdade, o Irã, que disputou apenas uma Copa do Mundo anterior, é a menor preocupação dos americanos em seu grupo”, escreveu The New York Times.
Como esperado, a imprensa internacional debateu as questões políticas que envolviam o sorteio. A Folha destacou que os EUA acabaram em um grupo com países com quem mantiveram ou mantinham conflito: “Combateu a Alemanha […] lideraram a ação da ONU na guerra civil na Bósnia-Herzegovina e têm estado em constante disputa com o governo do Irã, a quem acusa de estimular o terrorismo”.

Foto: Tomikoshi Photo/Arte: O Futebólogo
Por mais que se tentasse pensar exclusivamente em futebol, tal era impossível. O diretor executivo da Federação de Futebol dos Estados Unidos, Hank Steinbrecher, chamou o esperado confronto entre Irã e EUA de “a mãe de todos os jogos”.
Enquanto jogadores como o zagueiro norte-americano Alexi Lalas garantiam que “o futebol e a Copa do Mundo refletem a personalidade e a história de uma nação, o que será visto durante o jogo […] podemos deixar a política de lado e jogar um jogo bom e justo”, o artilheiro iraniano, Daei, mantinha a tensão alta: “Vamos conseguir o que é nosso direito e ajudar nossa nação a manter a cabeça erguida”, registrou o Los Angeles Times.
O clima era pesado, ainda que, do lado americano, os atletas reforçassem o caráter esportivo do encontro. Fora das quatro linhas, a questão política seguia em voga. Um mês antes da Copa do Mundo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos rotulou o Irã como o mais ativo patrocinador do terrorismo global, acirrando ainda mais os ânimos.
Dias antes da partida, em solo francês, uma rede de televisão reproduziu o filme Nunca Sem Minha Filha, que denunciava condições precárias de vida no Irã. Desde a embaixada persa veio a resposta: “O Irã está considerando retirar sua seleção da Copa do Mundo em protesto contra a transmissão do filme anti-iraniano”. Até mesmo a possibilidade de um aperto de mãos entre os jogadores dos dois países era tema de acalorada discussão. Além disso, famílias de vítimas da Guerra Irã-Iraque entraram em contato com jogadores implorando por uma vitória, como revelaria Azizi, um dos que se mostrou mais motivado a buscar o triunfo a qualquer custo.

Foto: Eric Feferberg/ AFP/Arte: O Futebólogo
Do lado iraniano, até mesmo o comando técnico era problema. No início de 1998, a Federação local contratara o croata Tomislav Ivic para treinar a equipe. Em maio ele seria destituído, assumindo seu auxiliar, Jalal Talebi: “Me escolheram porque não daria tempo de encontrar outro treinador”, falou à ESPN.
No entendimento geral, os EUA eram favoritos. “A maioria dos observadores diz que a equipe iraniana tem poucas chances de vencer”, escreveu a Sports Illustrated.
Flores e manifestações
Na primeira rodada da Copa do Mundo de 1998, a Iugoslávia venceu o Irã, 1 a 0 — gol de Siniša Mihajlović. Paralelamente, a Alemanha, com Andreas Möller e Jürgen Klinsmann, bateu os Estados Unidos. Enquanto as nações europeias se enfrentariam a seguir, iranianos e estadunidenses jogariam a chance de avanço à segunda fase. O Stade de Gerland, em Lyon, sediaria a partida mais aguardada do Mundial, até então.
Além das tensões geopolíticas já consolidadas, outro debate seria levantado em cima da hora. Por protocolo da FIFA, nos jogos mundialistas, o time A ficava postado, enquanto os atletas do time B se perfilavam e caminhavam apertando as mãos dos adversários. No caso, pelo sorteio, os jogadores americanos deveriam aguardar o cumprimento dos persas. Estes, porém, foram proibidos por seu líder supremo, Ali Khamenei, de fazê-lo. Em uma das quebras de protocolo mais famosas da história do esporte, os estadunidenses se dirigiram em saudação aos adversários.
Embora a animosidade fosse evidente, à sua maneira, os iranianos também agitariam a bandeira branca, entregando flores aos rivais.
Outra quebra de protocolo ocorreria na hora da foto oficial, por iniciativa do árbitro suíço Urs Meier. Os jogadores escalados se alternaram em uma só foto, todos juntos, em claro sinal de paz. Embora atletas como Azizi tivessem deixado claro seu desejo visceral de vitória, ele não era um lugar comum. “Viemos aqui para mostrar a todos que não há problemas entre pessoas de dois países”, falaria Talebi, ao NY Times, como reproduziu o Washington Post.

Foto: Patrick Kovarik/AFP/Getty-Images/ Arte: O Futebólogo
A despeito de tudo isso, quando a bola rolou, ficou cristalino que um lado desejava a vitória com mais ardor. Era óbvio que os iranianos estavam mais dispostos a deixar tudo em campo, embora nada de anormal tenha acontecido. “A FIFA, a Federação e o Comitê Organizador pediram que jogássemos pelo futebol, não pela política”, comentou o treinador norte-americano, Steve Sampson, à revista Time. Assim foi, a despeito das manifestações políticas das arquibancadas, que causaram pequenos conflitos, e da presença de um contingente policial recorde na história da competição.
O Irã saiu na frente aos 40 minutos da etapa inicial, com gol de cabeça de Hamid Estili. Na parte final do segundo tempo, Mahdavikia faria o segundo, com um chute potente em contragolpe, antes de o goleador Brian McBride diminuir para os Estados Unidos: 2 a 1 para o quadro persa e um encerramento em paz. Mas sem silêncio.
Após a partida, o goleiro e capitão Ahmad Abedzadeh se dirigiu às arquibancadas, buscou uma bandeira do Irã, e caminhou em direção a um setor em que outra bandeira exibia: “Abaixo Khamenei”. Diante das câmeras do mundo todo, parte dos atletas bradava contra o governo do sucessor de Khomeini. Por isso, a Folha dedicou reportagem de página dupla ao confronto: “Vitória da Oposição”.
Diante da derrota, o treinador norte-americano revelaria que, se tivesse uma segunda chance, talvez optasse por um discurso mais inflamado, com argumentos políticos. No entanto, parecia apenas a resposta de quem, dentro do campo, perdera. Esportivamente, aquele resultado, além de aniquilar as chances de avanço estadunidenses, não seria suficiente para o avanço iraniano. Os dois países perderam na rodada fatal.

Acervo: Folha
“Não sabíamos o quanto o jogo significava para o Irã até o fim. Eles estavam chorando. Sabíamos que estávamos fora, então estávamos lidando com nossos próprios demônios, mas vê-los comemorar… Eu não deveria dizer isso… havia algo bonito. Eles mereciam”, pontuou o atacante americano Eric Wynalda.
Apesar dos 45 anos de conflito entre os países e de todo contexto duro que cercou o confronto, antes, durante e depois, o saldo era tranquilo. Subitamente, a ideia de vitória transcendia a de obtenção de três pontos. O futebol mostrara, outra vez, sua capacidade para promover a paz.